
A economia brasileira encolheu em 2016, como já havia encolhido em 2015. O PIB caiu, o poder de compra caiu, 1,32 milhão de pessoas perderam o emprego e a recessão se instaurou. A SP-Arte, maior feira do setor no País, gerou menos faturamento do que em 2015, numa queda estimada em 28%. A ArtRio, segunda maior, não fala em números, mas teve menos expositores e foi realizada num espaço menor. seLecT ouviu 20 expoentes do mercado de arte para esta reportagem, inclusive uma galeria com dez anos de operação que jamais teve lucro e quase quebrou no ano passado. Vários galeristas assumem que perderam faturamento. Mas alguns dizem o contrário.

O mercado secundário no Brasil, que comercializa artistas históricos, modernistas e o chamado early contemporary, faz vendas acima de R$ 4 milhões. Uma pintura de José Pancetti, Abaeté – Lavadeiras, de 46 x 61 cm, recebeu lance de R$ 4,7 milhões em leilão na Bolsa de Arte no ano passado. Esse mercado teria caído entre 20% e 30% no ano passado, na estimativa de um peso pesado no ramo, Carlos Dale, sócio da Galeria Almeida e Dale. Mas ele e o sócio negam ter sentido tal queda. “Hoje fazemos negócio em todos os lugares: Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Londres, Miami”, diz Antonio Almeida, citando parcerias com outras galerias, inclusive para vendas em feiras no exterior. “Ampliamos o leque”, diz Dale. “Hoje vendemos mobiliário, santos, paisagens dos séculos 17 e 18, expusemos José Antônio da Silva…”

O veterano Ricardo Camargo, há 50 anos no mercado secundário, diz que faturou mais em 2016 do que no ano anterior, mas aquém do que conseguia de 2014 para trás. “Caiu em torno de 35% ou 40%”, diz. “Fiquei três anos sem participar da SP-Arte (de 2012 a 2014). Eu tinha me separado e ao mesmo tempo investi muito dinheiro para fazer o Instituto Wesley Duke Lee (1931-2010), com Patricia Lee, sobrinha do Wesley. Nunca tive prejuízo em feiras. Em 2016, vendi três Wesley, um Nelson Leirner e mais algumas coisas. Foram em torno de R$ 350 mil, R$ 400 mil de lucro, tirando o custo.”
Camargo aponta os leilões daqui como um fator negativo para o mercado secundário. “Eles derrubam muito o preço, principalmente dos artistas de vanguarda. Tenho uma obra do Antonio Henrique Amaral por R$ 225 mil. Tinha uma, outro dia, num leilão, que estava por R$ 50 mil. Não é a que está comigo, que é muito melhor, mas é quase do mesmo tamanho. Vai explicar para o colecionador. No ano passado, o Antonio da Almeida e Dale me procurou, porque fizeram uma parceria com a galeria britânica Cecilia Brunson, para uma exposição de Claudio Tozzi. É uma coisa importante colocar no mercado uma parceria. Em Nova York acontece muito, mas aqui não. Não tenho feito feiras fora do Brasil. Acho que está na hora. Já passou da hora”, reconhece Ricardo Camargo.

Thiago Gomide, da Bergamin & Gomide, que tem como foco as décadas de 1950 a 1990, conta ter crescido 50% no ano passado. “Mas abrimos em 2013. É difícil perceber onde é o plateau, pois somos novos, ainda estamos sem referência”, diz ele. “Devo ter vendido uns US$ 3 milhões na SP-Arte e US$ 1 milhão na ArtRio”, continua Gomide. “A SP-Arte é mesmo a maior feira da América Latina, atrai o maior número de colecionadores, de advisers. O Brasil não tem espaço para duas grandes feiras internacionais. Fica complicado para as grandes galerias de fora fazerem duas feiras no Brasil. A ArtRio devia fazer uma feira local”, diz ele, sócio da pequena feira Semana de Arte que será aberta em agosto em São Paulo. Em 2016, suas maiores vendas foram de obras de Mira Schendel, Alfredo Volpi e Cildo Meireles, “muito acima de US$ 1 milhão”. “Desde o começo estabelecemos que o nosso foco era o mercado internacional.” Em 2017 pretendem estar “em cinco ou seis feiras fora”.
Mercado primário
No mercado há mais de 40 anos, Luisa Strina conta que trabalha em dólar desde 1974, por causa da flutuação do câmbio e também das mudanças de moeda no Brasil. Cerca de 70% de suas vendas são para o exterior (EUA e Europa). A queda no ano passado foi de mais de 30%. “Senti mais na feira de Miami, porque os europeus não vieram, com medo da zika, os americanos estavam estarrecidos com a vitória de Trump e os brasileiros estavam sem dinheiro, ou sei lá. Teve uma retração grande”, diz. Mesmo assim, ao longo do ano, Strina continuou a fazer vendas consistentes, com trabalhos de Cildo Meireles, que ela representa em primeira mão, cotados em mais de US$ 1 milhão. Em 2016, ela aumentou a participação em feiras internacionais: nada menos que 11.

Outra galerista que trabalha com artistas bastante valorizados é Raquel Arnaud, também de São Paulo. Cruz-Diez, Waltercio Caldas e Sergio Camargo foram os que ela mais vendeu no ano passado, com obras entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. “Nós não baixamos o preço de ninguém. Mas também não tem como subir preços hoje em dia. Houve, sim, uma ou outra valorização a partir de vendas no exterior”, diz Arnaud, referindo-se a Carla Chaim e Carlos Nunes, adquiridos pela coleção de Ella Fontanals-Cisneros. Arnaud conta que trabalha muito para cada feira de que participa. “Falando em custo-benefício, a maioria delas empata. Mas divulgam. No fim, temos um mailing estrangeiro bastante forte.”
Presidente da Associação Brasileira de Arte Contemporânea (Abact), a galerista Luciana Brito pondera: “A crise foi menos dramática do que imaginávamos”. Baseada em pesquisa da entidade, diz que o setor continuou contratando novos profissionais, em vez de demitir, mas os números dessa pesquisa foram apurados em 2015. Sobre a própria galeria, que leva seu nome, conta que manteve, em 2016, “o mesmo faturamento do ano anterior” e para isso tiveram de “trabalhar dobrado”. No meio da crise, ela mudou a galeria para uma casa modernista tombada, projetada pelo arquiteto Rino Levi com jardins de Roberto Burle Marx. Pelo restauro, ganharam o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) no fim do ano.

Dificuldades do setor
“As galerias precisam ter representação internacional, mas sempre nos debatemos com o problema da enorme taxação. A Apex nos ajuda a exportar obras, mas para trazer obras temos todos os empecilhos”, diz Luciana Brito em nome do setor. Márcia Fortes, sócia da galeria Fortes D’Aloia & Gabriel, que representa alguns dos artistas mais caros do mercado no Brasil, como Beatriz Milhazes e Adriana Varejão, exemplifica. “O cara consegue comprar um Tarsila do Amaral num leilão da Christie’s, mas não consegue trazer a obra de volta ao Brasil, porque os impostos em cascata chegam a cerca de 48% do valor das obras de arte. Outras dificuldades de atuar no Brasil, aponta Fortes, são a dupla tributação em operações de consignação; o ICMS em remessas interestaduais quando a galeria empresta obras para museus; exigências de documentos inadequados a obras contemporâneas, por parte do Iphan, no trânsito para exposições no exterior; e a taxação que recai sobre os doadores de obras a museus, de 4%, levando alguns deles a subfaturar o valor de suas obras, para pagar menos nessa situação. “Digamos que o artista faz uma exposição na Pinacoteca e, quando acaba, quer doar uma obra ao museu. O artista não vai pagar 4% de imposto sobre a doação”, argumenta Fortes. “E depois ainda fica uma aura de que o que estamos fazendo no mercado de arte é lavar dinheiro, quando o que estamos fazendo é representar profissionais que têm filhos na escola, têm de pagar aluguel, como todo mundo”, desabafa.

Carioca de nascença, Márcia Fortes abriu com seus sócios, no fim de 2016, um terceiro espaço, chamado de Carpintaria, dessa vez no Jockey Club do Rio, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. “Foram 15 anos de atividade como Fortes Vilaça, depois a gente abriu um galpão (ambos em São Paulo). As pessoas vão ver a exposição e depois passeiam pelas caixas. No Rio, queríamos ventilar outras ideias e também dar aos artistas com os quais a gente trabalha a oportunidade de fazer uma exposição na cidade. A Beatriz adoraria poder chamar o tio…” Suas expectativas financeiras para a operação na cidade, entretanto, não são as mais exuberantes. “Você pega a lista da Forbes e, dos milionários e bilionários brasileiros, a maioria mora no Rio. Existe muito potencial a ser trabalhado. Mas acho que não está na numerologia da cidade a questão do business. São Paulo é o coração financeiro. Aqui estamos na Hollywood brasileira. Tem muita gente que trabalha nesse setor de economia criativa. Mas isso (a filial carioca) é um atestado de teimosia firmado em cartório. Claro que é muito difícil. Seria mais fácil abrir uma filial em Nova York a essas alturas”, diz.
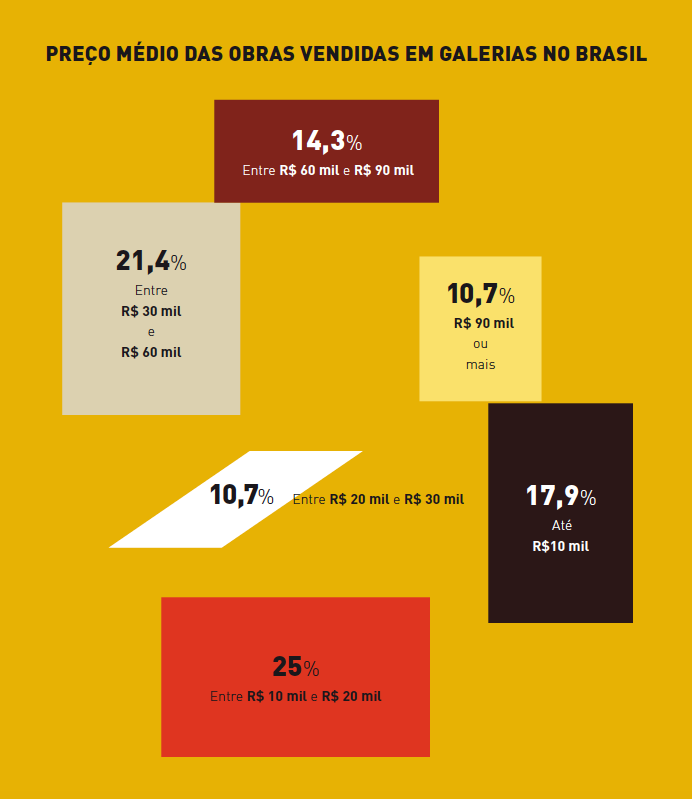
Nova York
Quem de fato já abriu uma filial em Nova York no fim de 2015 e também está em projeto de abrir um galpão no Rio em 2017 é a concorrente paulistana Nara Roesler, embora a fundadora dessa galeria seja pernambucana. Roesler já mantinha uma filial numa casa em Ipanema há três anos, mas agora está em processo de construção de um novo galpão no Jockey Club da Lagoa, vizinho ao espaço da Fortes D’Aloia & Gabriel.

“O Rio foi a escola para irmos para Nova York”, conta Daniel Roesler, diretor da galeria. “Absorvemos os novos custos sem sustos. Estamos num lugar alternativo dentro da cena de galerias de NY, o Flower District.” Para bancar o investimento, a galeria deixou de ir a feiras europeias. Em 2016, foi apenas a quatro feiras internacionais, sendo três nos EUA (Armory Show, Art Basel Miami Beach e Frieze NY) e uma na China (Art Basel Hong Kong). A operação em Nova York já se paga, embora o investimento ainda não tenha retornado, diz Roesler. Ele aponta Abraham Palatnik e Julio Le Parc como pivôs do sucesso inicial da operação norte-americana. Palatnik está com individual marcada no Metropolitan Museum.
“E 2016 foi o melhor ano da história da Galeria Nara Roesler”, diz Daniel. “Não baixamos o preço de ninguém. O que tivemos foram artistas com preço em reais e o dólar subindo. Então, no mercado internacional, esses artistas ficaram mais baratos. Mas boa parte dos nossos artistas têm preço em dólar, porque já tinham galerias fora, como o Vik Muniz. O preço dele está subindo.” Mas os faturamentos ArtRio na SP-Arte e na decepcionaram. “O Rio foi o epicentro da crise no Brasil. A ArtRio está sofrendo bastante, mas fazemos o máximo para que continue. A ArtRio chegou com um monte de galerias grandes, internacionais, e a SP-Arte correu atrás. Foi bom para São Paulo, para o Rio e para o Brasil”, diz Daniel Roesler.

Márcia Fortes também congelou a taxa de conversão do dólar no ano passado. “Vamos congelar em R$ 3,2 ou vamos congelar em R$ 3? Tentamos estabilizar o mercado de conversão, que estava muito volátil. É arbitrário? O que define o valor de uma obra de arte? É minha cabeça? Não exatamente. Tem mil elementos nessa equação. Um deles é a solidificação e expansão do currículo do artista”, diz ela.
Paradoxalmente, Nova York foi a saída para as maiores – como Nara Roesler e Mendes Wood DM, que abre em maio uma filial no Upper East Side – e menores, como a também paulistana Emma Thomas, que em dez anos de trajetória nunca entrou no azul e quase quebrou em 2015. Emma Thomas – nome fictício, é claro, para zoar com o fato de grande parte das galerias carregar o nome de seu proprietário – reinventou seu modelo de negócio em 2016, com exposições pop up em São Paulo e no Lower East Side, em Nova York. Em vez de atuar no “cubo branco” tradicional, a galeria agora funciona em instalações nômades, no formato de tenda branca. O projeto é finalista do prêmio Archdaily.
Já as feiras não têm se mostrado um bom negócio para galerias de seu porte, cujo preço médio das obras vendidas varia entre R$ 4 mil e R$ 7 mil. “A ARCO era uma feira em que a gente decidiu investir. Fiz três anos de Solo Project, mas, em 2014, colocaram galerias grandes no Solo e empurraram a gente para a área geral. Tive um prejuízo de R$ 40 mil”, diz a diretora Juliana Freire.

Feiras internacionais
Aumentar a participação em feiras de arte internacionais foi uma estratégia da Fortes, D’Aloia & Gabriel. “Dobramos o número de feiras internacionais”, diz Márcia Fortes. Sua concorrente, a Galeria Vermelho, também apostou nessa forma de venda. “Fizemos 15 feiras no ano passado”, diz Eduardo Brandão, sócio e fundador da Vermelho, confirmando a tese de que é preciso internacionalizar o negócio. “Crescemos 10% no faturamento. Em 2015 havia caído 7%, mas 2014 tinha sido o melhor dos 15 anos da galeria. Mas, já que o ano passado foi bom, pensei em investir e fazer umas feiras que a gente nunca fez, como Dubai”, aproveitando que o colombiano Iván Agote foi convidado a fazer uma performance nessa feira e o brasileiro Jonathas de Andrade estará na Bienal de Sharjah, também nos Emirados Árabes.

Quanto custa participar de uma feira? “A Art Basel Miami Beach é a nossa feira mais cara”, diz Brandão. Para lá vão cerca de 15 galerias nacionais por ano, segundo o representante da feira no Brasil, Ricardo Sardenberg. “Só pelo estande pagamos R$ 220 mil no ano passado”, conta o fundador da Vermelho. “Aí você põe passagem, hotel, transporte e refeições para quatro pessoas, e o custo do envio das obras. Para ficar no zero a zero, temos de vender R$ 600 mil. É difícil. Nosso preço médio de venda é R$ 36 mil na galeria.” No entanto, venderam.
Até mesmo a ex-pequena Galeria Jaqueline Martins fez oito feiras no exterior no ano passado, nem todas bem-sucedidas comercialmente. “Em 2016, saí da Vila Madalena e vim para a Vila Buarque, porque, com um pouquinho mais no aluguel, consegui esse espaço maravilhoso. Tínhamos cem metros quadrados e agora temos mil. Não tenho do que me queixar. Para mim, 2016 foi o melhor ano da galeria”, diz Martins, que está no mercado há cinco anos. Ela fechou o ano comemorando vendas para o MoMA, o Reina Sofía, o MAM de São Paulo, o MAR e o Malba de Buenos Aires, entre outras instituições. Afinal, nada valoriza mais o currículo de artistas do que estar no acervo de museus importantes e nas grandes bienais.
Enquanto algumas galerias comemoram, outras relatam apenas ter repetido em 2016 a performance de 2015. Ou seja, perderam da inflação. Outros contam ter sido muito mais flexíveis em prazos e no câmbio. “Em 2016, as galerias brasileiras tiveram uma flexibilidade que a gente não teve”, diz João Paulo Siqueira, representante da Lisson Gallery no Brasil. A Lisson existe desde 1967 e tem espaços expositivos em Londres, Milão e Nova York. No ano passado, a obra mais cara vendida por ele para um brasileiro foi um prato de Anish Kapoor, por 550 mil libras esterlinas. “Eu não posso fazer dólar mais baixo, não posso fazer pagamentos em muitas parcelas, não tenho esse tipo de maleabilidade que as galerias nacionais têm. Em compensação, muitos brasileiros compram fora do Brasil”, diz Siqueira, para quem “arte é uma coisa que você compra geralmente de bom humor.”

Galerista no Rio de Janeiro, Luciana Caravello concorda em parte. “Acho que as feiras brasileiras são um bom negócio, pois os colecionadores têm ido mais a elas do que às exposições. Mas as internacionais são um risco bem alto. Em 2016, fiz cinco feiras internacionais. Acho que é um investimento mais na imagem do que em lucro financeiro”, diz. “Vou cortar o número de feiras para as quais vou aplicar este ano. Vou fazer mais exposições e menos feiras.”
Galerista da Amparo 60, no Recife, Lucia Costa Santos diz que tem o mercado internacional como meta em 2017. “Sentimos a retração, por isso pulamos a última SP-Arte. Mas temos planos de persistir nas feiras, por acreditarmos ser o melhor canal com as instituições e os colecionadores nacionais e internacionais.”
Números globais
Se 2016 começou sombrio, não foi só no Brasil. O segmento de arte contemporânea em leilões no mundo teve uma contração de mais de 25% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2015. A fatia do Leão, porém, não é do mercado primário, que vende obras de artistas contemporâneos em primeira mão. Enquanto os leilões de arte contemporânea movimentaram US$ 1,5 bilhão globalmente no primeiro semestre do ano passado, o mercado secundário girou US$ 6,53 bilhões.
Uma análise de mais longo prazo é bem positiva para o mercado de arte, no Brasil e no mundo. O crescimento global em leilões de arte foi de 1.370% desde o ano 2000. O Brasil é ruim de números, mas é voz corrente que seu mercado de arte cresceu muito nos últimos 15 anos. Tanto cresceu que, em 2017, uma nova feira de arte vai surgir em São Paulo (leia no Em Construção). “Achei uma belíssima ideia uma feira para colecionador, não para quem é só entusiasta”, diz o representante da Lisson. “E mais crise, menos crise, vai ter sempre espaço para a
SP-Arte. Ela está na capital econômica de um país com 200 milhões de pessoas”, argumenta. Sobre a ArtRio, ele acha que “já foi redimensionada. Acho que ela vai ser uma feira local para outro público. E ela é muito interessante do ponto de vista de formação de público”, diz Siqueira.
ArtRio e SP-Arte

“A ArtRio tem sempre muito público”, diz sua diretora Brenda Valansi. “Muitas galerias reclamavam disso no início, mas essa é tanto uma feira comercial quanto um evento cultural”, avalia. A ArtRio surgiu em 2011, chegou a atrair 74 mil visitantes. No ano passado foram 50 mil. “Isso se alinha a uma estratégia de redução de tamanho em prol de mais qualidade, mas também em resposta à crise”, diz Valansi. “Em 2016, em vez de buscar mais galerias internacionais, decidimos trazer curadores e colecionadores de fora. Trouxemos 40 convidados, 15 pela ABACT. Não tivemos as curadorias, por questão de espaço. As galerias acharam que não fizeram falta”, diz ela.
Outra iniciativa foi abrir um filhote, a ArtRio Carioca. “A Barra da Tijuca é 17 vezes maior que o Leblon e abriga uma população de altíssimo poder aquisitivo. O público da Barra aderiu mais ou menos. Precisamos fazer um trabalho a longo prazo lá, mas me parece que foi um ótimo começo. O público global está aderindo”, diz ela, citando nomes de atores da TV Globo.
Se a ArtRio ainda está pensando se vai voltar ou não a incluir na programação exposições curadas, a SP-Arte eliminou o setor de revistas de arte. As revistas só vão aparecer na livraria. Uma iniciativa na contramão do que faz a Frieze em Londres e Nova York, por exemplo, que investe em divulgar o pensamento e a informação sobre a atividade artística, e mantém estantes e lounges para que o público possa ler as muitas revistas internacionais à vontade. No Brasil, o conteúdo anda em baixa no mercado. O que anda em alta é a boataria. Durante a SP-Arte 2016, circulou notícia de que uma pintura de Beatriz Milhazes, que estava consignada com a Dan Galeria, teria saído por US$ 4 milhões (algo entre R$ 12 milhões e R$ 16 milhões, a depender da data e do autor da informação). Mas o galerista Peter Cohn informou depois que o comprador, com a repercussão, desistiu da compra.
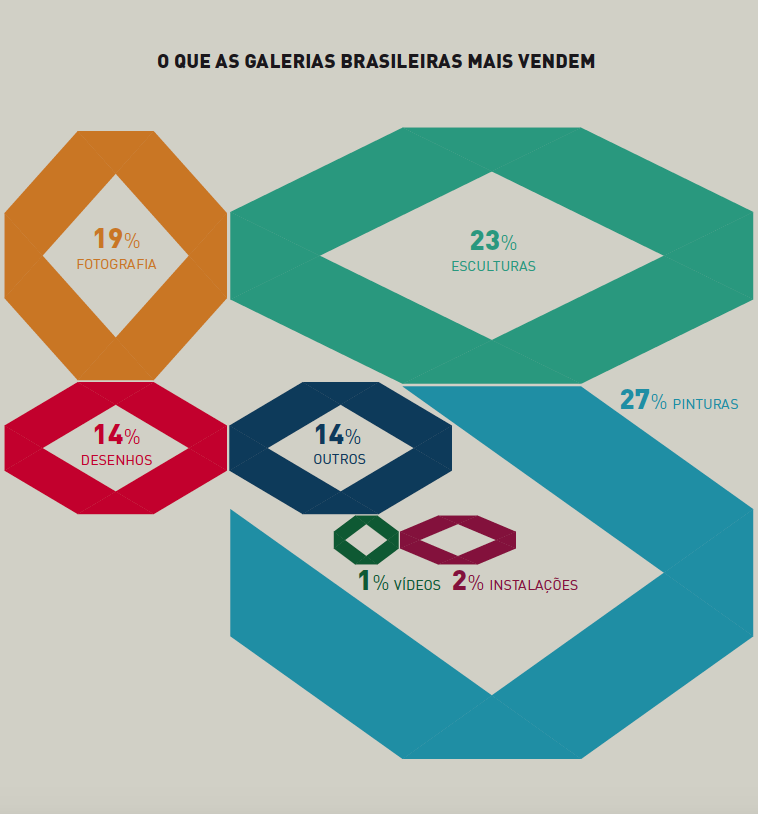
Fernanda Feitosa, a poderosa diretora da SP-Arte, ressalta que a edição deste ano volta a reunir uma “qualidade excepcional de expositores”, nacionais e estrangeiros. São 128, mais que no ano passado. “Entre as galerias participantes temos de novo algumas das mais influentes do mundo, como David Zwirner, Lisson, White Cube, Kurimanzutto, Continua, Franco Noero e Neugerriemschneider, além do retorno de Marian Goodman e Alexander Grey e a estreia de Cheim & Read”, enumera. O circuito paralelo terá mais de cem eventos ao longo da semana da feira, como o Gallery Night, com aberturas em galerias sincronizadas por bairro. No quesito novidade, o Repertório será um novo setor, curado por Jacopo Crivelli Visconti, com obras de artistas nascidos até os anos 1950. Seria um sinal dos tempos de crise que a supervalorização de jovens artistas dê espaço à valorização dos mestres?
