Quantas definições sobre si mesmo podem-se criar ao longo de 365 dias? Como um ano pode ser narrado diariamente a partir de identidades que surgem contaminadas por fatos banais ou grandiosos do cotidiano?
Bio (Inventory Press, 2018), trabalho da iraniana-americana Maryam Monalisa Gharavi, parece tratar de um tema já banalizado em tempos de redes sociais, onde perfis – verdadeiros ou não – são criados e apagados do dia para a noite e qualquer descrição sobre o mundo nunca se descola de um ponto de vista pessoal.
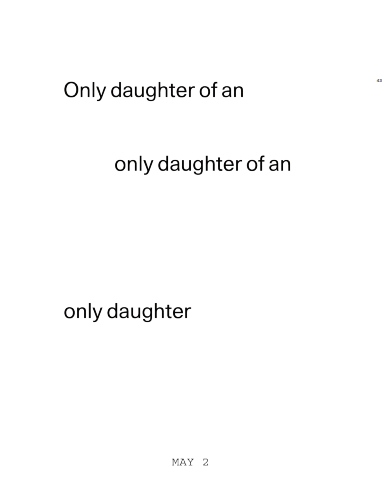
Mas a combinação simbiótica entre as duas narrativas – falar de si enquanto se fala do mundo, e vice-versa – aqui é levada ao extremo. Durante um ano a artista e poeta usou a “bio” de seu perfil no Twitter como um espaço de escrita diária. Contrariando os princípios do acúmulo e disputa por visibilidade que regem qualquer rede social, ela deletava a cada dia a postagem anterior – e a performance provavelmente não foi vista por quase ninguém. Ao final, ela apagou também sua conta, desaparecendo sem deixar nenhum rastro on-line.
A obra está entre muitas interseções de meios e gêneros artísticos. Se hoje existe como um livro publicado em 2018, ela tem origem em uma performance realizada no Twitter entre maio de 2014 e maio de 2015, acontecendo apenas nessa especificidade de tempo e espaço. Bio também levanta outras discussões além da tão falada criação de múltiplas identidades na internet e da cultura do indivíduo que parece moldar tudo ao redor – dos anúncios que chegam nas timelines das redes a opiniões políticas. Trata também de experiências artísticas pensadas como táticas de infiltração e formas de resistir a sistemas de vigilância. Essa foi uma das motivações da artista: ao descobrir que a “bio” era o único espaço onde os dados dos usuários não eram lidos algoritmicamente e armazenados pela plataforma, sua intenção era se infiltrar nesse meio burlando suas regras; mantendo-se presente enquanto buscava o desaparecimento onde isso é cada vez mais difícil.
Assim como não há nenhum registro do trabalho em seu formato original na internet além de artigos e informações publicadas posteriormente, também não se encontra qualquer menção à performance no livro de 736 páginas, numeradas com a data de cada postagem em folhas duplas. Os textos – um híbrido entre poemas visuais e aforismos (“A batalha para compor a vida é travada diariamente entre […]os méritos do trivial e mundano contra o heroico e importante”) – podem ser lidos de forma independente, mas vale seguir a sequência e acompanhar a evolução do processo do início.
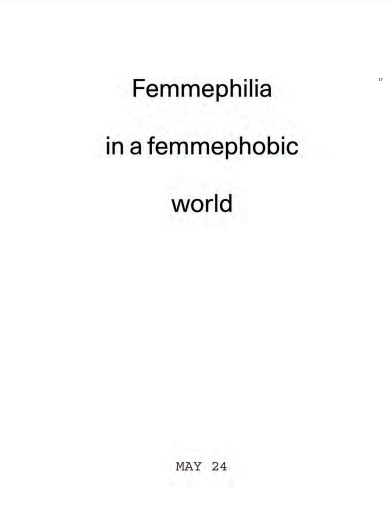
Lá estão as primeiras autodefinições possíveis em sua biografia, das mais genéricas (“Possuidor de um telencéfalo e polegares altamente opositores”) às mais particulares (“Única filha de uma única filha de uma única filha”). A seguir, surgem passagens que refletem sobre o experimento de se apresentar ao mundo de tantas maneiras – “Coloquei um eu na internet e acompanhei sua disseminação”; “Como vestir uma máscara (pôster do consultório médico/título alternativo para o livro). “Ou outras, mais à frente, que expressam um descontentamento com as redes e um desejo por alternativas – “Mídias antissociais ou uma sociedade não mediada são outras opções”, publicou no dia 7 de junho de 2014.
COLONIALISMO DE DADOS
É curioso rever o trabalho de Monalisa Gharavi no contexto atual. Seis anos, afinal, fazem uma enorme diferença na história ainda recente das tecnologias pós-redes sociais e da discussão sobre a falta de transparência no uso de dados pessoais. Hoje, o termo Big Tech saiu dos rincões do Vale do Silício e do mundo digital, entrando de vez no vocabulário cotidiano. Embora o Twitter não esteja oficialmente na lista das cinco empresas que concentram as plataformas de maior uso de dados – Amazon, Facebook, Apple, Google e Microsoft –, o volume de informações acumuladas por essa rede não é nada desprezível.
A extração de dados por plataformas digitais é comparada hoje a um novo tipo de colonialismo – como defendem Nick Couldry e Ulises A. Mejias em The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism (Stanford University Press, 2019). Para os autores, a principal mudança é que a experiência humana e as relações sociais tornaram-se os grandes alvos de extração lucrativa nos mais variados aspectos – e essa é a chave para entender como o capitalismo está evoluindo. Eles estendem a análise não só às empresas que promovem a “socialização grátis”, como Facebook e Twitter, mas a plataformas como Uber, Airbnb e Netflix, que cobram pelo serviço, mas ganham infinitamente mais com informações que coletam dos usuários sem informar bem como.
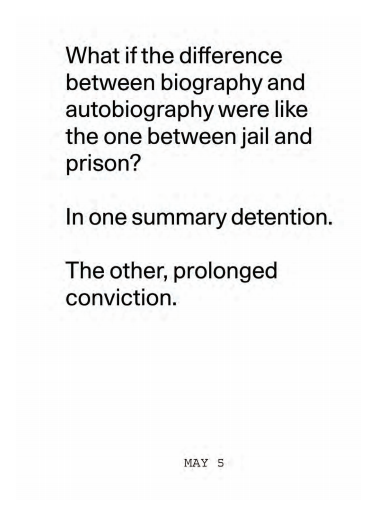
Quando a performance Bio foi realizada, o Twitter ainda mantinha a ordem cronológica no feed de notícias, adotando a sistematização por algoritmos em 2016. A mudança, acompanhada pela adesão em massa de políticos à plataforma após a eleição de Donald Trump, ressuscitou essa rede social, que andava em baixa naquele momento. De certa forma, o trabalho da artista antecipa uma discussão que ganharia outra proporção em 2018, quando a revelação do escândalo da Cambridge Analytica – empresa que recolheu dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários do Facebook nas eleições americanas – tornou mais comum um discurso crítico e menos otimista sobre o uso de redes sociais. Bio parte também de uma pesquisa de Monalisa Gharavi sobre artistas e poetas que já adotaram práticas de cancelamento de textos, como rasuras e outras interferências na leitura – entre eles Man Ray, em Untitled Poem (1924); Marcel Broodthaers, em Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hasard (1969); e Anna Maria Maiolino, em Poema Secreto (da série Mapas Mentais, 1971). Sua intenção era reutilizar esse método de criação e adaptá-lo para o mundo virtual e para uma rede social, um terreno onde o excesso dá as ordens e desaparecer tornou-se quase impossível. “Não é apenas porque esses atributos são o oposto da autopromoção, do engrandecimento e da reinserção macro e micro na economia da atenção, mas porque eles são a antítese do material ativo da internet em si – aparência e superfície”, escreveu em uma sequência de textos para a publicação The New Inquiry.
O trabalho aponta ainda para outro tipo de cancelamento, diferente da cultura que vem sendo questionada por corrigir injustiças, eliminando o debate e as diferenças. De certa forma, tudo isso é também consequência direta da maneira como os algoritmos trabalham para moldar o nosso entorno à nossa imagem e semelhança. Embora Bio não tenha um propósito ativista, o método adotado por Monalisa Gharavi é um bom exemplo de como artistas podem assumir um papel político ao quebrar a lógica aleatória desses sistemas, interferindo nas regras e relações de poder estipuladas por essas grandes empresas.
Se, na arquitetura das plataformas digitais, o desaparecimento tem um tom quase sempre apocalíptico – a busca por informações nunca é priorizada, as memórias são efêmeras e há sempre o risco de que encerrem suas atividades sem maiores explicações –, Bio mostra que o desaparecimento pode ser usado também como uma estratégia a favor.
